Mortos e Desaparecidos Políticos
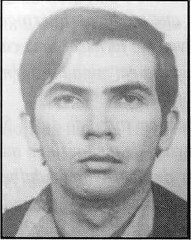 BERGSON GURJÃO FARIAS (1947-1972)
BERGSON GURJÃO FARIAS (1947-1972)
Existem controvérsias entre diferentes
publicações e documentos quanto à data do desaparecimento ou morte desse
líder estudantil cearense. Foi a primeira baixa fatal entre os quadros
do PCdoB que foram deslocados para o Araguaia. A data 8 de maio sempre
constou nas listas de mortos e desaparecidos políticos. Publicações mais
recentes, baseadas em trechos de documentos secretos das forças
repressivas, indicam 2 ou 4 de
junho. Segundo testemunhas, seu corpo foi pendurado em uma árvore, de
cabeça para baixo, para ser agredido por pára-quedistas e outros agentes
das forças repressivas.
Bergson atuou no Movimento Estudantil quando cursava Química na Universidade Federal do Ceará. Foi vice-presidente do DCE em 1967, sendo preso durante o 30º Congresso da UNE, em lbiúna
(SP), em outubro de 1968, e expulso da Universidade com base no
Decreto-lei 477. Ainda em 1968, no Ceará, foi ferido a bala na cabeça
quando participava de manifestação estudantil. Em 01/07/1969 foi
condenado a dois anos de reclusão pela Justiça Militar. Com isso, passou
a atuar na clandestinidade e mudou-se para a região do Araguaia, indo
residir na área de Caianos.
O desaparecimento de Bergson foi
denunciado em juízo pelos presos políticos José Genoíno Neto e Dower
Moraes Cavalcante. Genoíno afirmou que lhe mostraram o corpo sem vida de
Bergson, com inúmeras perfurações, durante um interrogatório. Dower
informou ter sido preso e torturado junto com Bergson e confirmou a
versão de Genoíno para a sua morte. Segundo depoimento de Dower - hoje
falecido - o general Bandeira de Melo lhe disse que Bergson estaria
enterrado no Cemitério de Xambioá.
Segundo o Relatório Arroyo, “(...) dias
depois, Paulo (comandante do destacamento) procurou um morador, de nome
Cearense, seu conhecido, e que já havia prestado alguma ajuda,
encomendando-lhe um rolo de fumo, que seria apanhado dentro de uns três
dias. Cearense sempre foi muito ajudado por Paulo. No entanto, diante da
recompensa oferecida pelo Exército (1.000 cruzeiros) por cada
guerrilheiro que entregasse, Cearense foi a São Geraldo e avisou o
Exército do ponto marcado por Paulo. No dia de apanhar o fumo,
dirigiu-se ao local um grupo constituído por cinco elementos: Paulo,
Jorge (Bérgson Gurjão Farias), Áurea (Áurea Elisa Pereira Valadão), Ari
(Arildo Valadão) e Josias (Tobias). Ao se aproximar do local, foram
metralhados, tendo morrido Jorge”.
Relatório da Operação Sucuri, de maio de
1974, confirma essa morte. O relatório do Ministério da Marinha, de
1993, também registra junho como mês de sua morte. Um outro documento,
assinado pelo general Antonio Bandeira, então comandante da 3ª Brigada
de Infantaria, registrou: “Nesta fase das operações, que cobriu o
período de 22 Maio 72 a 07 Jul 72, foram obtidos os seguintes
resultados: a) Morte de três terroristas. 1) Bérgson Gurjão Farias
(Jorge) – morto a 02 Jun 72, em Caiano – pertencia ao Destacamento C –
era chefe do grupo 700; 2) Maria Petit da Silva (Maria) – morta a 16 Jun
72, em Pau Preto I – pertencia ao Grupo 900 (Destacamento C); 3) Kleber
Lemos da Silva (Carlito) – morto a 29 Jun 72, em Abóbora – pertencia ao
Grupo 900 (Destacamento C)”.
No “livro secreto” do Exército,
divulgado em abril de 2007, consta sobre Bergson na página 720: “Em
junho (de 1972), começando a rarear os suprimentos, os elementos
subversivos começaram a deixar a selva em busca de alimentos. No dia 4,
houve um choque de um grupo subversivo com as forças legais na região do
Caiano. Dele resultou ferido um tenente pára-quedista, sendo morto
Bérgson Gurjão de Farias (Jorge)”.
No livro A Lei da Selva, de Hugo
Studart, a data da morte seria 4 de maio, de acordo com o Dossiê que
serviu de base ao autor e foi escrito por militares que participaram
diretamente da repressão à guerrilha.
O jornalista Elio Gaspari descreve em A
Ditadura Escancarada: “O Exército oferecia mil cruzeiros por ‘paulista’
capturado. Era dinheiro suficiente para a compra de um pequeno pedaço de
terra. Esse tipo de incentivo, associado à intimidação, levou um
camponês a denunciar um guerrilheiro com quem tinha boas relações.
Deveria entregar-lhe um rolo de fumo e avisou o Exército. Cinco
‘paulistas’ foram para as proximidades do lugar onde deveria ser deixada
a encomenda. Um deles, Jorge, aproximou-se. Ouviram-se três rajadas.
Bergson Gurjão Farias, 25 anos, ex-aluno de química na Universidade
Federal do Ceará, tornou-se o primeiro desaparecido da guerrilha”.
ADRIANO FONSECA FILHO (1945–1973)
Nascido de uma família presbiteriana, em
Ponte Nova (MG), era o segundo filho entre cinco irmãos. Fez o curso
primário nessa cidade e, aos dez anos, transferiu-se para Belo Horizonte
onde estudou como interno no Colégio Batista. Fez o curso científico na
cidade de Lavras (MG), no Instituto Gammon, também em regime de
internato.
Aos 17 anos, Adriano mudou-se para o Rio
de Janeiro. As atividades no Movimento Estudantil levaram-no a reduzir a
freqüência com que visitava a família, mas sempre que voltava à terra
natal levava livros e orientava os irmãos. Morava num apartamento em
Ipanema, que compunha uma espécie de república de estudantes,
intelectuais e artistas. Trabalhava no Tribunal Super Eleitoral, além de
dedicar-se ao teatro, encenando e escrevendo peças teatrais. Uma das
peças em que atuou como ator foi montada no Teatro Tereza Rachel.
Fez o pré-vestibular do Centro Acadêmico
Edson Luís (CAEL) e foi aprovado para o curso de Filosofia da UFRJ, em
1969. O começo do curso marca também seu ingresso na militância do
PCdoB. A repressão militar, a partir do AI-5, fez com que entrasse na
clandestinidade. No final de 1970, início de 1971, participou da
Comissão Organizadora da Juventude Patriótica, movimento criado por
iniciativa do PCdoB. Viveu durante um ano e meio no sótão de um prédio
antigo no Leblon. Do bairro carioca, foi para a região da Gameleira, no
Araguaia, onde passou a integrar o Destacamento B, assumindo o nome
Chicão e sendo conhecido também pelo apelido Queixada, devido ao queixo
grande.
Ângelo Arroyo registrou em seu relatório
a respeito da morte de Adriano: “dia 28/29 de novembro, o grupo acampou
nas cabeceiras da grota do Nascimento. Chico (Adriano) recebeu um tiro,
caindo morto. Eram 17h. Em seguida, ouviram-se mais seis tiros”. O
relatório do Ministério do Exército diz que Adriano teria morrido em
combate com as forças de segurança na guerrilha do Araguaia, onde atuava
no Destacamento C. Já o relatório do Ministério da Marinha registra que
ele foi “morto na região do Araguaia em 03/12/1973”.
O livro de Taís Morais e Eumano Silva
sustenta que Adriano morreu quando caçava jabuti para alimentação dos
guerrilheiros e acrescenta:
“Uma equipe do Exército segue pela mata
por volta das cinco da tarde. O oficial comandante da missão
apresenta-se como Doutor Silva. O mateiro Cícero e outro morador,
Raimundo Severino, guiam a patrulha. Em uma curva do caminho, aparece um
guerrilheiro. Raimundo aponta a espingarda e puxa o gatilho. Chico
recebe o tiro no peito, leva a mão ao rosto e solta um gemido profundo. O
lamento de dor e desespero ecoa pela mata e faz Cícero estremecer.
Chico morre na hora.
Orientado pelo Doutor Silva, Raimundo
Severino avança com um facão na direção do corpo. A lâmina corta o
pescoço e separa a cabeça do combatente. O sangue quente do comunista
escorre pelo chão do Araguaia.(...)
Doutor Silva manda Cícero colocar a
cabeça do guerrilheiro em um saco e carregar até outro ponto da
floresta. Com os nervos abalados pela cena, o mateiro tem a sensação de
carregar um corpo inteiro”.
Já no livro A Lei da Selva, Hugo Studart
aventa a possibilidade de Adriano ter permanecido vivo durante três
dias, mas informa que também no Dossiê Araguaia a data da morte é 3 de
dezembro.
 ALUÍZIO PALHANO PEDREIRA FERREIRA (1922-1971)
ALUÍZIO PALHANO PEDREIRA FERREIRA (1922-1971)
O nome de Aluízio consta da lista de
desaparecidos políticos anexa à Lei nº 9.140/95, tendo sido preso em
09/05/1971 em São Paulo. No período anterior à deposição de João
Goulart, ele era o principal líder sindical bancário no Brasil. Filho de
fazendeiro abastado, nasceu em Pirajuí, interior paulista, estudou no
Colégio Mackenzie, em São Paulo, e no Colégio Salesiano, em Santa
Rosa/Niterói. Terminou o curso secundário no Colégio Plínio Leite e
trabalhou como bilheteiro no Cine Royal, que pertencia à avó, em
Niterói. Aos 21 anos, fez concurso e ingressou no Banco do Brasil,
iniciando a vida de dirigente sindical. Foi por duas vezes presidente do
Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro, presidente da Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Crédito (CONTEC) e
vice-presidente do Comando Geral dos Trabalhadores.
Em 1947, casou-se com Leda Pimenta, com
quem teve dois filhos, Márcia e Honésio. Formou-se em Direito na
Universidade Federal Fluminense. Nos dias do Golpe de Estado, sua esposa
conta que Palhano ainda tentou articular-se em ações de resistência, na
área da Cinelândia. Teve os direitos políticos cassados e buscou asilo
na Embaixada do México, em junho, deixando a esposa e os filhos no
Brasil. Daquele país, seguiu para Cuba, onde viveu alguns anos,
participando em mutirões do corte de cana e
trabalhando na Rádio Havana, sendo sua voz captada no Brasil. Lá foi
eleito pela OLAS – Organização Latino-americana de Solidariedade,
representante do movimento sindical do Brasil, em 1967. No final de
1970, regressou clandestinamente ao País para se integrar à VPR. Era um dos contatos, no Brasil, do agente policial infiltrado José Anselmo dos Santos, o cabo Anselmo, que possivelmente o tenha entregue aos órgãos de segurança.
Sua prisão e morte foram denunciadas
pelo preso político Altino Rodrigues Dantas Jr., em carta enviada do
Presídio Romão Gomes, de São Paulo, em 1º de agosto de 1978, ao general
Rodrigo Octávio Jordão Ramos, ministro do STM que vinha, naquele
tribunal superior, adotando corajoso posicionamento contrário às
violações de Direitos Humanos já denunciadas há vários anos. A prisão de
Palhano também foi testemunhada por outros presos políticos, entre eles
o militante do MR-8 Nelson Rodrigues Filho, filho do conhecido
dramaturgo brasileiro, que esteve com ele no DOI-CODI do Rio de Janeiro.
A carta de Altino contém informações
taxativas: “Na época comandava o DOI-CODI o Major Carlos Alberto
Brilhante Ustra (que usava o codinome de ‘Tibiriçá’), sendo
subcomandante o Major Dalmo José Cyrillo (‘Major Hermenegildo’ ou
‘Garcia’). Por volta do dia 16 de maio, Aluízio Palhano chegou àquele
organismo do II Exército, recambiado do Cenimar do Rio de Janeiro (...)
Na noite do dia 20 para 21 daquele mês de maio, por volta das 23 horas,
ouvi quando o retiraram da cela contígua à minha e o conduziram para a
sala de torturas, que era separada da cela forte, onde me encontrava,
por um pequeno corredor. Podia, assim, ouvir os gritos do torturado. A
sessão de tortura se prolongou até a alta madrugada do dia 21,
provavelmente 2 ou 4 horas da manhã, momento em que se fez silêncio.
Alguns minutos após, fui conduzido a
essa mesma sala de torturas, que estava suja de sangue mais que de
costume. Perante vários torturadores, particularmente excitados naquele
dia, ouvi de um deles, conhecido pelo codinome de ‘JC’ (cujo verdadeiro
nome é Dirceu Gravina), a seguinte afirmação:’Acabamos de matar o seu
amigo, agora é a sua vez’. (...) Entre outros, se encontravam presentes
naquele momento os seguintes agentes: ’Dr. José’ (oficial do Exército,
chefe da equipe); ‘Jacó’ (integrante da equipe, cabo da Aeronáutica);
Maurício José de Freitas (‘Lunga’ ou ‘Lungaretti’, integrante dos
quadros da Polícia Federal), além do já citado Dirceu Gravina ‘JC’, e
outros sobre os quais não tenho referências”.
Inês Etienne Romeu, sobrevivente do
sítio clandestino em Petrópolis, afirma, em seu relatório de prisão, que
Palhano foi levado para lá no dia 13/05/1971, tendo ouvido várias vezes
sua voz durante os interrogatórios. Afirma, ainda, que Mariano Joaquim
da Silva, desaparecido com quem ela conversou durante o seqüestro de
ambos naquela casa de horrores, viu a chegada de Palhano e o estado
físico deplorável em que se encontrava, resultante das torturas.

ANA ROSA KUCINSKI SILVA (1942 – 1974)
WILSON SILVA (1942 – 1974)Ana Rosa Kucinski Silva era professora universitária, formada em química, com doutorado em filosofia. Casada com o físico Wilson Silva, trabalhava no Instituto de Química da USP. Wilson era formado pela Faculdade de Física da USP, tinha especialização em processamento de dados e trabalhava na empresa Servix. Os dois conciliavam seu trabalho e estudos com a militância política na ALN. Ambos os nomes estão incluídos na lista de desaparecidos políticos anexa à Lei nº 9.140/95.Wilson era conhecido na ALN pelo codinome Rodrigues, sendo um dos poucos membros dessa organização clandestina que tinha conseguido manter sua militância por mais de cinco anos, sem ser preso ou sair do país. Em 1961, aos 19 anos, saiu de Taubaté (SP) para estudar em São Paulo, já trazendo consigo o interesse pela política, que nasceu em seus tempos de Escola Estadual Monteiro Lobato. Foi militante da Polop entre 1967 e 1969, ligou-se à ALN a partir desse ano e sempre priorizou a atuação junto ao setor operário.Ana Rosa estudou Química, na USP, durante a efervescência estudantil que marcou o início da resistência ao regime militar nessa área, avançando seu engajamento político a partir do namoro e casamento com Wilson, que em 1966 tinha organizado com Bernardo Kucinski, seu colega na Física da USP e irmão de Ana Rosa, uma exposição sobre os 30 anos da Guerra Civil Espanhola, na rua Maria Antonia.No dia 22/04/1974, Ana Rosa saiu do trabalho na Cidade Universitária e foi ao centro da cidade para almoçar com Wilson, num dos restaurantes próximos à Praça da República.Ele saíra do escritório da empresa, na avenida Paulista, junto com seu colega de trabalho OsmarMiranda Dias, para fazer um serviço de rotina também no centro. Terminado o serviço, Wilson separou-se de seu colega e avisou que almoçaria com sua esposa e depois voltaria para o escritório. O casal desapareceu nas proximidades da Praça da República.Os colegas de Ana Rosa na USP estranharam sua ausência e avisaram a família Kucinski, que imediatamente começou a tomar providências para sua localização. Ao procurarem Wilson, souberam que ele também havia desaparecido. As duas famílias passaram a viver o tormento da busca por informações. O habeas-corpus impetrado pelo advogado Aldo Lins e Silva foi negado, pois nenhuma unidade militar ou policial reconhecia a prisão do casal. A família foi a todos os locais de prisão política em busca de notícias e informações. A Comissão de Direitos Humanos da OEA foi acionada, como recurso extremo, no dia 10/12/1974, data em que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, das Nações Unidas, completava 26 anos. O pedido de investigação daquela instância interamericana foi respondido, meses depois, pelo governo brasileiro, afirmando não ter responsabilidade alguma sobre o destino do casal e que não tinha informações sobre o caso.Reinaldo Cabral e Ronaldo Lapa descrevem, em Desaparecidos Políticos, a busca junto ao governo dos Estados Unidos: “O Departamento de Estado norte-americano, solicitado a dar uma informação, comunicou à American Jewish Communitee, entidade dedicada, entre outras coisas, a procurar pessoas desaparecidas na guerra, famílias separadas, e também à American Jewish Congress, espécie de federação das organizações judaicas religiosas culturais, que Ana Rosa estava viva, mas não sabia onde. A última informação do Departamento de Estado foi transmitida à família Kucinski em 7 de novembro de 1974”.Esse mesmo livro traz um depoimento de Bernardo Kucinski, que se formou em Física mas optou pelo jornalismo, tendo trabalhado na BBC de Londres e colaborado nos semanários Opinião e Movimento, antes de publicar vários livros e se tornar professor de jornalismo na USP: “Certeza da morte já é um sofrimento suficiente, por assim dizer. Um sofrimento brutal. Agora, a incerteza de uma morte, que no fundo é certeza, mas formalmente não é, é muito pior. Passam-se anos até que as pessoas comecem a pensar que houve morte mesmo. E os pais principalmente, já mais idosos, nunca conseguem enfrentar essa situação com realismo”. Bernardo Kucinski também contou, numa entrevista para a revista Veja, que a família foi extorquida em 25 mil dólares em troca de informações, que ao final se mostraram inteiramente falsas.O cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arns, conseguiu, conforme já registrado, uma audiência em Brasília com o general Golbery do Couto e Silva e obteve como resposta promessas de investigação. Pouco tempo depois, o ministro de Justiça, Armando Falcão publicou a insólita nota oficial informando sobre o destino dos desaparecidos políticos, onde Ana Rosa e Wilson Silva foram citados como ‘terroristas foragidos’.Anos depois, o tenente-médico Amílcar Lobo, que serviu no DOI-CODI/RJ e na “Casa da Morte”, em Petrópolis (RJ), concedeu entrevista denunciando os assassinatos políticos que presenciara naquelas unidades militares. Procurado por Bernardo Kucinski, o médico reconheceu Wilson Silva como sendo uma das vítimas de torturas atendidas por ele. Ao ver a foto de Ana Rosa, o militar a identificou como uma das presas, mas sem demonstrar convicção ou certeza. Também o ex-agente do DOI-CODI/SP, em entrevista à Veja de 18/11/1992, informou: “Foi o caso também de Ana Rosa Kucinski e seu marido, Wilson Silva. Foram delatados por um cachorro, presos em São Paulo e levados para a casa de Petrópolis. Acredito que seus corpos também foram despedaçados”.O Relatório do Ministério da Marinha, enviado ao Ministro da Justiça, Maurício Correa, em 1993, confirmou que Wilson Silva “foi preso em São Paulo a 22/04/1974, e dado como desaparecido desde então”. Na ficha de Wilson Silva, no arquivo do DEOPS, consta que ele foi “preso em 22/04/1974, junto com sua esposa Rosa Kucinski”.ANDRÉ GRABOIS (1946–1973)
Filho do histórico dirigente comunista Maurício Grabois, André nasceu no Rio de Janeiro no mesmo ano em que seu pai assumiu a cadeira de deputado constituinte, após a derrocada do Estado Novo. Fez o curso primário na Escola Municipal Pedro Ernesto e o ginásio no Liceu Nilo Peçanha, em Niterói. Desde muito cedo, pelo convívio com militantes comunistas, André interessou-se pelas questões políticas e sociais. A partir de abril de 1964, devido às perseguições movidas contra seus pais Maurício Grabois e Alzira da Costa Reys, foi obrigado a abandonar seus estudos e, com apenas 17 anos, passou a viver na clandestinidade. Na juventude, tornou-se muito amigo de um jovem italiano cuja família residia no Rio de Janeiro, Libero Giancarlo Castiglia, que também se deslocou para o Araguaia e morreu no dia de Natal de 1973.A vida de militante levou André a viajar ao exterior em 1967, para fazer cursos de capacitação política na China e na Albânia. Foi um dos primeiros a chegar à região do Araguaia, indo para a localidade de Faveira, no início de 1968. Antes chegou a residir em Rondonópolis, onde construiu um campo de futebol e organizou um time. No Araguaia, ficou conhecido como jovem brincalhão, muito apreciador das festas locais. Conheceu ali a militante do PCdoB Criméia Almeida, com quem iniciou relacionamento amoroso que viria a gerar um filho, João Carlos, que nasceu na prisão e a quem não chegou a conhecer. André Grabois era o comandante do Destacamento A da guerrilha.As condições de sua morte já moram relatadas acima, seguindo a narração do Relatório Arroyo, que aponta como data o dia 14 de outubro. O relatório da Aeronáutica afirma que André era, “militante do PCdoB e guerrilheiro no Araguaia”. E o relatório da Marinha registra: “NOV/74, relacionado entre os que estiveram ligados à tentativa de implantação de guerrilha rural, levada a efeito pelo comitê central do PCdoB, em Xambioá. Morto em 13/10/1973”.No chamado “livro secreto do Exército”, consta na página 783 sobre as três mortes:”Os subversivos haviam no primeiro combate de encontro com as forças legais sofrido quatro baixas e perdido três depósitos na área da Transamazônica. Haviam morrido no enfrentamento com as ‘forças da repressão’: Joivino Ferreira de Souza (Nunes) – na verdade, Divino –, André Grabois (José Carlos), João Gualberto Calatronio (Zebão) – pertencentes ao Dst A – e Antonio Alfredo Campos (elemento de apoio da área)”.No livro Operação Araguaia, de Taís Morais e Eumano Silva, consta ainda a informação de que André, antes de morrer, teria participado do assalto a um posto da Polícia Militar de Brejo Grande, na Transamazônica, e que os dois companheiros que morreram com ele estavam vestidos com fardas da PM, subtraídas naquele ataque, que Elio Gaspari computa como o mais ousado ataque efetuado pelos guerrilheiros em todo o período.No relatório apresentado por quatro procuradores do Ministério Público Federal em 2002, também está registrado: “José Carlos: ANDRÉ GRABOIS, morto em confronto na Fazenda do Geraldo Martins (Município de São Domingos do Araguaia), foi enterrado em uma cova rasa na região do Caçador, próximo à casa do pai de Antônio Félix da Silva”, repetindo-se a mesma informação, em seguida, para João Gualberto Calatroni e Antonio Alfredo Campos.ANTÔNIO FERREIRA PINTO (1932–1974)Conhecido no Araguaia como Antônio Alfaiate, era pernambucano de Lagoa dos Gatos. Viveu na Baixada Fluminense, onde trabalhava como alfaiate, tornando-se dirigente do Sindicato dos Alfaiates do Estado da Guanabara. Participou dos movimentos populares pré-1964 em Duque de Caxias (RJ), contra a sonegação especulativa de gêneros alimentícios, incluindo ocupação de supermercados e açougues onde os produtos estavam sendo escondidos para alcançar maiores preços.Militante do PCdoB, foi viver na localidade de Metade, no Araguaia, em 1970. Era franzino, de gênio alegre e gostava de cantar e dançar músicas nordestinas. Pertencia ao Destacamento A. Seu nome não consta do Anexo da Lei nº 9.140/95 porque só era conhecido pelo apelido ”Antônio Alfaiate”. O requerimento de seus familiares foi aprovado na Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos em agosto de 1996, primeiro ano de funcionamento desse colegiado.Antônio Felix da Silva, o mesmo morador que prestou depoimento aos procuradores do Ministério Público Federal, deu informações como Alfaiate foi preso: “em abril de 1974, poucos militares ainda andavam na mata; que os militares achavam que apenas três ou quatro guerrilheiros ainda estavam vivos; que os militares pousaram em uma clareira perto de sua casa e foram a pé até a casa de Manezinho das Duas e se esconderam em um bananal próximo da casa; que no dia seguinte, pela manhã, o declarante foi até a casa do Manezinho das Duas, conforme determinação dos militares; que lá chegando, por volta das 7 horas da manhã, do dia 21/04/1974, o declarante viu Antônio, Valdir e Beto sentados em um banco na sala da casa, com os pulsos amarrados para trás com uma corda fina, parecendo ser de nylon; que o declarante viu um militar se comunicando pelo rádio; que, por volta das 9 horas da manhã, chegou o helicóptero que levou os militares e os três prisioneiros”.ANTÔNIO ALFREDO DE LIMA (1938-1973)Seu nome consta da lista de desaparecidos políticos do anexo da Lei nº 9.140/95 como Antônio Alfredo Campos. Lavrador, natural do estado do Pará, tinha 35 anos quando foi morto pelas forças armadas, no dia 14/10/73, em sua roça, às margens do rio Fortaleza, em São João do Araguaia, conforme registrado no Relatório Arroyo. Foi barqueiro, vaqueiro, tropeiro, castanheiro e lavrador. Vivia com a mulher e três filhos como posseiro, no município de São João do Araguaia, quando foi ameaçado de expulsão e morte por grileiros e intimado a abandonar o local. Resistiu, aderindo à guerrilha. Dizia: “Posseiro que se entrega a grileiro, vira andarilho no mundo, sempre com seus bagulhos nas costas, sem ter onde cair morto”.Segundo relatos de pessoas da região, gostava de ensinar e transmitia suas experiências de caçador e mateiro aos companheiros. Alfredo também tinha muita disposição para o aprendizado. Analfabeto, em poucos meses aprendeu a ler e escrever. Aconselhava os outros lavradores a fazerem o mesmo. No início de outubro de 1973, sua mulher, Oneide, e os filhos foram presos e torturados. Mesmo assim Alfredo permaneceu na luta, sendo morto uma semana depois, em companhia de André Grabois, João Gualberto e Divino.Em 17/06/2007, o jornalista Leonel Rocha publicou matéria no Correio Brazilliense com informações sobre a possível localização dos corpos de Antonio Alfredo, André e João Gualberto: “Manoel Lima, conhecido como Vanu, foi um dos principais guias do Exército. E também de maior confiança. Ele ficou encarregado de transportar os corpos dos guerrilheiros José Carlos, codinome de André Grabois, desaparecido desde outubro de 1973; Zebão, nome fictício de João Gualberto Calatrone, desaparecido em 1973; e de Antônio Alfredo de Lima, morto em outubro do mesmo ano. ‘Eu enterrei os três guerrilheiros aqui, na mesma cova’, aponta Manu para o terreno onde os revoltosos tinham construído uma casa. Neste local, a viúva de José Carlos, Criméia Almeida, realizou buscas há cerca de cinco anos, mas nada encontrou. O mateiro garante que as escavações foram feitas em local errado”.ANTÔNIO CARLOS MONTEIRO TEIXEIRA (1944-1972)
Baiano de Ilhéus e geólogo formado pela Universidade Federal da Bahia, Antônio Carlos teve intensa participação no Movimento Estudantil nos anos de 1967 e 1968. Em 1969, casou-se com sua colega Dinalva, a legendária Dina do Araguaia, e foram residir no Rio de Janeiro, onde passou a trabalhar no Ministério de Minas e Energia, participando simultaneamente de atividades da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC. Nesse período, o casal desenvolveu também um trabalho de conteúdo político e social junto a moradores de uma favela.Em maio de 1970, já incorporados ao PCdoB, Antonio e Dinalva trocaram o Rio de Janeiro pelo sul do Pará. No Araguaia, foram para a região de Caianos. O relatório apresentado pela Marinha, em 1993, ao ministro da Justiça Maurício Correa, afirma sobre Antônio Carlos: “em dezembro de 1972 foi identificado, por fotografia, como sendo o prof. Antônio que lecionava, no período de junho a dezembro de 1971, na Escola dos Padres de São Felix, em Terra Nova, no sopé da Serra do Roncador”. Abriu um mercadinho no povoado de Araguanã, onde ficou conhecido como Antonio da Dina. Quando os confrontos armados tiveram início, os dois já estavam separados e continuavam bons amigos.Fez parte do Destacamento C - Grupo 500. Era o instrutor de orientação na mata aos companheiros que chegavam. Conhecia profunda-mente a área e junto com Dinalva fez todo o mapeamento da região, até a Serra das Andorinhas.Os relatórios dos três ministérios militares não fazem nenhuma menção às condições e data em que foi morto. A referência a seu nome que consta no “livro negro” do Exército é a mesma já transcrita acima, na apresentação do caso Francisco Manoel Chaves. No Relatório Arroyoestá registrado: “Antônio foi gravemente ferido e levado para São Geraldo, onde foi torturado e assassinado. Escapou a companheira Dina, que sofreu um arranhão de bala no pescoço.(Provavelmente 21/09/72)”. Segundo relatos de moradores, seu corpo foi enterrado clandestinamente no Cemitério de Xambioá.Taís Morais e Eumano Silva escrevem sobre ele em Operação Araguaia: “Reservado, estudioso e carismático, usava a formação universitária para conhecer em profundidade a região. Demonstrava aos amigos consciência das poucas chances do movimento armado. Morreu em confronto com o Exército no dia 29 de setembro de 1972, segundo documentos do Exército. De acordo com o Relatório Arroyo, foi preso durante o combate, torturado e executado.ANTÔNIO DE PÁDUA COSTA (1943-1974)
Piauiense de Luís Correia, no Delta do Parnaíba, estudava Astronomia na Universidade Federal do Rio de Janeiro quando começou a participar ativamente do Movimento Estudantil entre os anos de 1967 e 1970. Fez parte da do Diretório Acadêmico do Instituto de Física e foi membro do Conselho do Dormitório do Alojamento do “Fundão”. Preso durante o 30º Congresso da UNE, em Ibiúna (SP), foi indiciado em inquérito e passou a ser perseguido pelos órgãos de segurança do regime militar. Optou pela militância política clandestina, quando já era militante do PCdoB. Mudou-se em 1970 para o Araguaia, fixando residência na localidade de Metade, onde era conhecido como Piauí. Foi o vice-comandante do Destacamento A e, após a morte de André Grabois, assumiu o comando.Conforme já transcrito na apresentação do caso Hélio Luiz Navarro de Magalhães, o Relatório Arroyo registra a ocorrência de um choque armado em 14/01/1974, no qual três guerrilheiros conseguiram fugir, mas não se sabia o que acontecera com outros três: Piauí (Antônio de Pádua Costa), Beto (Lúcio Petit da Silva) e Antônio (Antônio Alfaiate).No já mencionado relatório dos quatro procuradores do Ministério Público Federal, apresentado em janeiro de 2002, a informação é colidente com a da Marinha: “Piauí: Antônio De Pádua Costa, foi identificado sendo conduzido por soldados fardados na cidade de São Domingos do Araguaia. Depois de preso trabalhou como guia para as Forças Armadas na base da Bacaba, havendo, inclusive, foto sua em uma equipe. Manoel Leal Lima (ex-guia conhecido como Vanu) relatou que ao final da guerrilha Piauí for morto na Bacaba, assim como Duda e Pedro Carretel. Vanu disse ter acompanhado a equipe que os executou”.O livro de Elio Gaspari, A Ditadura Escancarada, vai na mesma direção: “Piauí, um dos quadros mais qualificados do PCdoB, andou pelo mato por várias semanas, até que um menino que o acompanhava (cujo pai aderira à guerrilha e fora morto) resolveu levá-lo à casa de um tio. Estava faminto, seminu. Foi entregue à tropa, que o encapuzou, amarrou e levou para a Bacaba. O mateiro Peixinho acompanhou-o em cinco patrulhas na busca por depósitos de armas ou mantimentos. A princípio Piauí ia amarrado. Depois andava com a tropa. Um dia disseram ao mateiro que Piauí não o acompanharia mais”.O livro de Hugo Studart informa que, no Dossiê Araguaia, a data apontada para a morte é 24/01/1974. O livro Operação Araguaia, de Taís Morais e Eumano Silva, acrescenta detalhes sobre a vida e morte de Antônio de Pádua Costa no Araguaia: “Moradores contam que em uma festa, em meados de 1973, Piauí dançou e namorou uma moça a noite inteira – sem tirar a arma das costas. Tinha temperamento alegre e brincalhão. Preso na casa do morador Antônio Almeida, foi obrigado a andar com o Exército diversas vezes pela mata, em busca dos depósitos de suprimentos. Levou os militares a esconderijos vazios. O ex-guia do Exército Manoel Leal de Lima, o Vanu, afirmou, em depoimento ao Ministério Público, tê-lo visto preso na base de Bacaba. Algum tempo depois, encontrou o corpo na mata, ao lado de outros dois guerrilheiros. Piauí é apontado em duas fotos dos arquivos do Ministério Público. Em uma, está cercado de militares armados. Na outra aparece dentro de um buraco do Vietnã. De acordo com a Marinha, Piauí foi morto pela guerrilheira Rosinha, codinome de Maria Célia Corrêa, no dia 5 de março de 1974. A versão não faz sentido”.ALCERI MARIA GOMES DA SILVA (1943-1970)ANTÔNIO DOS TRÊS REIS DE OLIVEIRA (1948-1970)
Embora militantes de organizações clandestinas distintas, Alceri Maria Gomes da Silva e Antônio dos Três Reis de Oliveira foram mortos juntos, no dia 17/05/1970, em São Paulo. Ambos os nomes constam do Dossiê dos Mortos e Desaparecidos, Alceri na lista de mortos e Antonio como desaparecido, tendo seu nome integrado o Anexo da Lei nº 9.140/95.Alceri, gaúcha de Porto Alegre e afrodescendente, trabalhava no escritório da fábrica Michelletto, em Canoas, onde começou a participar do movimento operário e filiou-se ao Sindicato dos Metalúrgicos. Em setembro de 1969, visitou sua família em Cachoeira do Sul para informar que estava de mudança para São Paulo, engajada na luta contra o regime militar. Após sua morte, a família viveu um verdadeiro processo de desestruturação. O pai, desgostoso, morreu menos de um ano depois de saber, por um delegado de Canoas, que a filha fora morta em São Paulo. Uma de suas irmãs, Valmira, também militante política, não suportou a culpa que passou a sentir por ter permitido que a irmã saísse de sua casa. Suicidou-se ingerindo soda cáustica.Antônio era natural de Tiros, Minas Gerais. Fez o curso ginasial no Colégio Nilo Cairo e estudava Economia na Faculdade de Apucarana. Foi membro da União Paranaense de Estudantes e produzia programas para a rádio local, junto com José Idésio Brianesi, também militante da ALN. Foi processado por participar do 30º Congresso da UNE, em 1968, em Ibiúna (SP).Depoimento dos presos políticos de São Paulo denunciou a morte desses dois militantes por agentes da OBAN, chefiados pelo capitão Maurício Lopes Lima. Ambos foram enterrados no Cemitério de Vila Formosa e os corpos nunca foram resgatados, apesar das tentativas feitas em 1991, a cargo da Comissão de Investigação da Vala de Perus. As modificações na quadra do cemitério, feitas em 1976, não deixaram registros de para onde foram os corpos dali exumados.Apesar da prisão ou morte de Antônio ter sido negada pelas autoridades de segurança, no Relatório do Ministério da Aeronáutica de 1993 consta que ele morreu no dia 17/05/1970, no bairro do Tatuapé, em São Paulo, quando uma equipe dos órgãos de segurança averiguava a existência de um “aparelho”. Os documentos acerca de sua morte somente foram encontrados na pesquisa feita no IML/SP em 1991. Ali, foi localizada uma requisição de exame, assinada pelo delegado do DOPS Alcides Cintra Bueno Filho, determinando que o corpo somente fosse enterrado após a autorização do órgão. Os legistas João Pagenoto e Albeylard Queiroz Orsini assinaram a certidão de óbito, dando como causa da morte lesões traumáticas crânio-encefálicas, causadas por um tiro que penetrou no olho direito e saiu pela nuca. Apesar da confirmação da morte após tantos anos de busca, seu nome continuou a fazer parte da lista de desaparecidos políticos por decisão da Comissão de Familiares.Alceri foi morta com quatro tiros, de acordo com o laudo necroscópico assinado pelos legistas João Pagenotto e Paulo Augusto Queiroz Rocha, que descrevem ferimentos no braço, no peito e dois que penetraram pelas costas, na coluna. Ao examinar o processo de Alceri, considerou o relator na CEMDP que as circunstâncias de sua morte foram exatamente as mesmas de Antônio, invocando o reconhecimento, por analogia, de que se o falecimento de Antonio atraiu o benefício previsto na lei, a Comissão Especial tivesse como satisfeitos, também em relação a Alceri, os pressupostos para que sua morte fosse enquadrada na Lei nº 9.140/95.ANTÔNIO GUILHERME RIBEIRO RIBAS (1946–1973)Ribas nasceu e estudou em São Paulo, sendo obrigado a interromper seus estudos no último ano do ensino médio, no Colégio Estadual Basílio Machado, na Vila Madalena. Foi presidente da União Paulista dos Estudantes Secundaristas (UPES) em 1967 e, no ano seguinte, seria provavelmente eleito presidente da UBES – União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Foi detido pelo DOPS, juntamente com a ex-presidente da União Estadual dos Estudantes de São Paulo, Catarina Meloni, durante manifestação contra a presença do presidente Costa e Silva em solenidade pelo Dia da Independência, 7 de setembro. Foi libertado mediante habeas-corpus uma semana antes de ser novamente detido, em Ibiúna, no 30º Congresso da UNE. Condenado pela 2ª Auditoria do Exército, de São Paulo, em setembro de 1969, a um ano e seis meses de prisão, passou por várias unidades prisionais: Tiradentes (duas vezes), Delegacia de Polícia da Rua 11 de Junho (Vila Mariana), Quartel do Batalhão de Caçadores (São Vicente), Forte de Itaipu (Praia Grande), Casa de Detenção de São Paulo e Quartel de Quitaúna (Osasco). Nesse período, seus parentes sofreram violências e abusos por parte dos policiais.Libertado em abril de 1970, passou a morar em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, continuando com sua militância clandestina no PCdoB. Ao final do ano, mudou-se para a região do Gameleira, no Araguaia. Antes, teve um último encontro com o irmão. A família, porém, só voltaria a ter notícias suas em 1973, através de Francisco Romanini, detido pela OBAN, que ouvira falar de suas atividades na guerrilha. Em 1975, julgado à revelia, foi absolvido. O relatório apresentado pelo Ministério do Exército, em 1993, registra que “Antônio Ribas, durante encontro com uma patrulha na região do Araguaia, conseguiu evadir-se, abandonando documentos nos quais usava o nome falso de José Ferreira da Silva”. Mais adiante o relatório informa: “teria morrido em confronto com as forças de segurança”. Esse relato se aproxima das informações do relatório Arroyo, onde consta que no dia 28 ou 29 de novembro de 1973, ao se encontrarem com uma patrulha do Exército, “Jaime (Jaime Petit da Silva) e Ferreira (Antonio Guilherme Ribeiro Ribas) ficaram desligados do grupo”. Já o relatório da Marinha registra a informação equivocada de que teria morrido, “em 20 de fevereiro de 1973”.No livro de Taís Morais e Eumano Silva, há uma passagem relatando movimentos dos guerrilheiros em 26/12/1973, dia seguinte ao maciço ataque sofrido pela Comissão Militar no dia anterior, que reitera a indicação de que Ribas não mantinha qualquer contato com seus companheiros desde a data da morte de Adriano Fonseca Filho (provavelmente em 28 ou 29/11/1973). Já no livro de Hugo Studart, A Lei da Selva, que se apóia em informações de um dossiê produzido por militares que atuaram na repressão à guerrilha, o autor escreve que Ribas teria morrido três dias antes de Jaime Petit: “Depois de Ari, os militares apanharam Adriano Fonseca Fernandes Filho, o Chico, também do Destacamento C. Morreu a 3 de dezembro de 1973, segundo o Dossiê. Em vez de transportar o corpo, desta vez os militares levaram somente a cabeça para identificação. Antonio Guilherme Ribeiro Ribas, o Ferreira, do Destacamento B, foi abatido duas semanas depois na área dos pára-quedistas. Com mais três dias, em 22 de dezembro, na localidade Grota do Cajá, morreria Jaime Petit da Silva, o Jaime, do Destacamento C. Os militares também lhe cortaram a cabeça para identificação”. Em nota de pé de página, Studart registra precisamente a data da morte de Ribas em 19/12/1973, mas ressalva que, segundo anotações pessoais de um militar, ela teria ocorrido no dia 22.Seus parentes investigaram o caso em parceria com o Comitê Brasileiro pela Anistia, de São Paulo, com o objetivo de encontrar o corpo e esclarecer a verdade. Para isso, Dalmo Ribas esteve no Quartel general do 2° Exército, no Ibirapuera, para fazer contato com o comandante, general Dilermando Monteiro. Como não conseguiu ser recebido, falou com o tenente-coronel Pinheiro, espécie de relações públicas. O militar lhe garantiu que o “assunto era reservado, mesmo dentro do próprio Exército, e que nem o comandante teria acesso a informações afetas exclusivamente a Brasília” e que não mais deveria buscar esse tipo de esclarecimento.ANTÔNIO THEODORO DE CASTRO (1945–1974)Cearense de Itapipoca, cursou até o 4º ano de Farmácia na Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, e era diretor da Casa do Estudante Universitário. Foi obrigado a se transferir para o Rio de Janeiro devido às perseguições políticas advindas de sua participação no Movimento Estudantil. Matriculou-se na Faculdade de Farmácia e Bioquímica da UFRJ, onde continuou a participar das atividades estudantis em 1969 e 1970, militando também no PCdoB. Com o recrudescimento das perseguições políticas, Antônio foi deslocado em 1971 para o Araguaia, indo residir na região do rio Gameleira. Pertencia ao Destacamento B, sendo conhecido por Raul, Teo e Ceará.Segundo o Relatório Arroyo, Antônio já havia sido ferido no dia 30/09/72, quando desapareceram João Carlos Haas Sobrinho, Ciro Flávio de Oliveira e Manoel Nurchis. No relatório do Ministério da Marinha consta: “Fev./74 - Foi morto durante ataque de terroristas à equipe que o conduzia. Nov./74 - Relacionado entre os que estiveram ligados à tentativa de implantação da guerrilha rural, levada a efeito pelo CC do PCdoB, em Xambioá. Morto em 27/02/74”.Há informações de que seus restos mortais podem estar enterrados na Bacaba, no quilômetro 68 da Transamazônica, onde funcionou uma base militar com centro de torturas. Segundo moradores do local, havia um cemitério clandestino no fundo dessa base, próximo à mata.Com base no Dossiê produzido por militares que atuaram no combate à guerrilha, o jornalista Hugo Studart registra também a informação de que Antônio Teodoro teria morrido entre o Natal e 31 de dezembro de 1973, executado depois de preso. A discrepância de quase dois meses entre possíveis datas de sua morte pode significar que tenha permanecido vivo durante todo esse período.ARILDO AÍRTON VALADÃO (1948–1973)
Arildo estudou em Cachoeiro do Itapemirim (ES) até a conclusão do colegial. Seguiu então para o Rio de Janeiro, em 1968, para estudar Física na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tornando-se presidente do Diretório Acadêmico do Instituto de Física. Na faculdade conheceu Áurea Elisa Pereira, também desaparecida no Araguaia, com quem se casou em fevereiro de 1970. Moravam num pequeno apartamento no Catete e se mantinham com uma bolsa de estudos do CNPq e com o que ganhava como monitor de classe.Além de participarem das atividades do Movimento Estudantil, incorporaram-se ao PCdoB, sempre em companhia de um terceiro desaparecido do Araguaia, colega na mesma faculdade: Antônio de Pádua Costa, o Piauí. Para o casal, a vida na clandestinidade começou após a invasão de seu apartamento pelos órgãos de segurança. Arildo e Áurea foram viver no Araguaia no segundo semestre de 1970, estabelecendo-se na região de Caianos e integrando-se ao Destacamento C da Guerrilha. Embora não tivesse formação em Odontologia, Arildo extraía dentes e fazia pequenos atendimentos.Segundo o relatório Arroyo, “no dia 24, quando voltavam de um contato com a massa, os companheiros Ari (Arildo), Raul e Jonas pararam próximo de uma grota. Ari e Raul se aproximaram da grota para melhor se orientarem. Jonas ficou de guarda, perto das mochilas. Ouviu-se um tiro e Ari caiu. Em seguida ouviram-se mais dois tiros. Raul correu. O comando do Destacamento BC, que também ouvira os tiros, enviou quatro companheiros para pesquisar o que teria havido. Logo adiante, esses companheiros encontraram o corpo de Ari sem a cabeça. Sua arma, rifle 44, seu bornal e sua bússola tinham sido levados. As mochilas de Ari, Jonas e Raul estavam lá. Raul voltou pela manhã ao acampamento e Jonas desapareceu”. Sua morte também é citada no comunicado nº 8 das Forças Guerrilheiras do Araguaia, com o nome de Ari.O ex-colaborador do Exército, Sinésio Martins Ribeiro lembrou, em depoimento prestado em São Geraldo do Araguaia, em 19/07/01, que os guias usavam armas apreendidas pelos militares e descreveu as cenas em que as cabeças de três guerrilheiros foram cortadas: “(...) que o primeiro tiroteio do Exército foi no Pau Preto onde foi morto o Ari; que o depoente estava presente; que Ari não atirou; que Ari teve sua cabeça cortada e levada para a base do Exército em Xambioá; que nesse dia só havia uma equipe de cinco soldados, o comandante era o Piau e os guias eram Iomar Galego, Raimundo Baixinho e o depoente; que a grota do Pau Preto fica dentro do castanhal do Almir Moraes; que isto se deu num encontro casual, que não viram piseiro nem tiveram informações; que após a retirada da cabeça a colocaram num saco plástico e voltaram a pé, até a base do Paulista, na beira do Xambioazinho, junto a OP-2; que a cabeça foi entregue ao Dr. César, do Exército; (...)”.O Relatório da Marinha, de 1993, estabelece como data da morte 24/11/74, provavelmente por equívoco a respeito do ano. O codinome Ari aparece também na relação de mortos do Relatório do Exército, igualmente apresentado ao ministro da Justiça naquele ano.Hugo Studart informa que, no já mencionado Dossiê Araguaia, produzido por militares que atuaram diretamente na repressão à guerrilha, o dia de sua morte seria 26, e não 24. Agrega também outras informações constantes do Relatório da Marinha: “MAI/73, invadiu a fazenda ‘Paulista’ em Xambioá/Araguaia, juntamente com um grupo de aproximadamente 10 guerrilheiros, levando toda a provisão de mantimentos e animais da citada fazenda. Além disso, fez um ‘Trabalho de Massa’ com os lavradores que estavam por perto, convocando-os para a ‘Luta pela Libertação’. Morto em 24 NOV 73”.Elio Gaspari também descreve a decapitação de Arildo, em A Ditadura Escancarada, desenvolvendo os seguintes comentários: “A palavra maldita de Canudos e do Contestado chegara ao Araguaia. Poucas semanas depois da morte de Sônia, dois guerrilheiros acercaram-se de uma grota. Um era Ari (Arivaldo Valadão), veterano de três choques com as tropas. O outro, Jonas, um camponês de nome Abel, recrutadona região. Fora preso no final de 1972 e tinha o pai na cadeia. Outros combatentes que estavam nas vizinhanças ouviram três tiros. Aproximaram-se da grota e encontraram o corpo de Ari, sem a cabeça. A degola de Canudos, do Contestado e das volantes do cangaço também chegara ao Araguaia”.ARMANDO TEIXEIRA FRUCTUOSO (1923 – 1975)
Nascido no Rio de Janeiro, o operário Armando Teixeira Fructuoso estudou até completar o segundo grau e tornou-se ativista sindical logo após a derrubada do Estado Novo, liderando as mobilizações de seus colegas de trabalho na Light, empresa concessionária do serviço de bondes na então capital da República. Tornou-se delegado sindical, depois dirigente e por fim presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Light. Casou-se com Virgínia Ricardi Viana e com ela teve a filha Cláudia.No final dos anos 1940 já era um dirigente sindical destacado, ligado ao Partido Comunista. No início da década de 1950, representou o Brasil no Congresso Sindical Mundial pela Paz e contra a Guerra da Coréia. Também participou na Tchecoslováquia de um curso de capacitação política. Entre 1945 e 1964, foi preso 14 vezes por sua militância sindical, sendo que, numa greve da categoria, sua libertação foi exigida pelos trabalhadores e Fructuoso saiu do cárcere diretamente para a mesa de negociações.Com o Golpe de Estado de 1964, perdeu o mandato sindical, teve seus direitos políticos cassados, sofreu perseguições e foi obrigado a mergulhar na atuação clandestina. Entre 1967 e meados de 1968, ao lado de Manoel Jover Telles, Lincoln Bicalho Roque e outros militantes comunistas, alinhou-se no grupo dissidente do PCB no Rio de Janeiro que fundou o PCBR. No entanto, esse grupo permaneceu poucos meses no PCBR e, já no início de 1969, ingressou em bloco no PCdoB, onde Armando passaria a integrar o Comitê Central a partir de 1971.Foi capturado por agentes do DOI-CODI do I Exército no bairro de Madureira, no Rio, quando se dirigia para um encontro com outro membro do PCdoB, por volta de 19 horas do dia 30/08/1975. Foi submetido a violentas torturas durante vários dias, segundo depoimentos de pessoas que estavam presas naquela unidade militar, entre elas os presos políticos Gildázio Westin Cosenza e Delzir Antônio Mathias, que chegaram a ser acareados com Armando, entre 4 e 7 de setembro.Ambos testemunharam que o dirigente do PCdoB foi muito torturado e que sua saúde estava bastante debilitada. “No dia 4, ele mal podia levantar-se, tamanhas as seqüelas produzidas pelas torturas. Seu rosto apresentava manchas de sangue e equimoses. A partir de determinado dia, os torturadores passaram a negar-lhe alimentação e água”, afirmou Gildázio em seu depoimento. “ante os gritos de Fructuoso pedindo água, a resposta dos torturadores foi de que não iam gastar comida e água com quem ia morrer”.Delzir Antônio Matias escreveu uma carta à Justiça Militar, em 21/03/1978, testemunhando: “A minha denúncia de sua morte decorre do fato de haver ouvido de minha cela no DOI-CODI os seus gritos lancinantes, emitidos noites e dias seguidos e que repentinamente cessaram. Estou convencido de que tratava do Sr. Armando Teixeira Fructuoso por ter ouvido naquela ocasião o comentário de um para outro torturador afirmando que ‘esse lixo humano é o Juca ou Armando Fructuoso’.ÁUREA ELIZA PEREIRA (1950–1974)
Áurea passou a infância com sua família na Fazenda da Lagoa, município de Monte Belo, no sul de Minas Gerais, onde seu pai era administrador. Entre os 6 e os 14 anos, estudou no Colégio Nossa Senhora das Graças, em Areado, concluindo ali o curso ginasial. Mudou-se em 1964 para o Rio de Janeiro e foi cursar o segundo grau no Colégio Brasileiro, em São Cristóvão. Aos 17 anos, prestou vestibular para o Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde pretendia se especializar em Física Nuclear.Na Universidade, participou do Movimento Estudantil no período de 1967 a 1970, tendo sido membro do Diretório Acadêmico de sua escola, juntamente com Antônio de Pádua Costa e Arildo Valadão, ambos também desaparecidos no Araguaia. Áurea casou-se com Arildo Valadão no dia 06/02/1970, no Rio de Janeiro e, no dia seguinte, realizou a cerimônia religiosa na Basílica de Aparecida do Norte, em São Paulo. No segundo semestre de 1970, mudou-se junto com Arildo e Antônio de Pádua para o Araguaia, sendo os três militantes do PCdoB, indo viver na região de Caianos. Ali trabalhou como professora e ingressou no Destacamento C, comandado por Paulo Mendes Rodrigues.No início de 1974, já viúva de Arildo, foi vista no 23° Batalhão de Infantaria da Selva, pelo preso Amaro Lins, ex-militante do PCdoB, que prestou depoimento sobre isso no 4° Cartório de Notas de Belém (PA). Amaro relata também que ouviu um policial dizer a Áurea que arrumasse suas coisas, pois iria “viajar”. Viajar era o termo utilizado por policiais para designar execução.No relatório do Ministério da Marinha consta como, “morta em 13/06/74”. O Relatório do Exército não fala na morte, mas informa que “Durante a guerrilha do Araguaia, chefiou um grupo de terroristas armados de revólveres cal.38 e espingardas cal.20 que participou, em 4 AGO 73, de uma festa na Fazenda Sapiência”. Segundo depoimento de uma moradora de Xambioá, que não quis se identificar, Áurea teria sido vista sem vida na delegacia da cidade e seu corpo estaria enterrado no cemitério local.Em Operação Araguaia, os jornalistas Taís Morais e Eumano Silva descrevem: “Querida por todos, trabalhou como professora no povoado de Boa Vista e esbanjava simpatia. Dois mateiros a prenderam no início de 1974 e a entregaram à repressão. Amarrada, muito magra, faminta e doente, vestia apenas um pedaço de sutiã. As roupas rasgaram em meses seguidos de fuga pela mata úmida e cheia de espinhos. Foi encontrada junto com Batista, morador da região recrutado pela guerrilha, também debilitado pelas dificuldades de sobrevivência na mata. Áurea foi vista viva, depois de presa, na base de Xambioá”.Elio Gaspari, descrevendo o mecanismo de recompensas em dinheiro para quem matasse guerrilheiros, apresenta em A Ditadura Escancarada mais uma importante informação: “Adalberto Virgulino, que capturou a guerrilheira Áurea (Áurea Eliza Valadão), recebeu oitocentos cruzeiros e um maço de cigarros”.Hugo Studart aponta outra data para a morte de Áurea, com base no Dossiê Araguaia, mas acrescenta novos dados: “Dossiê registra sua morte a 1 JAN 74. Um militar que a interrogou relata que teria ocorrido debate entre os militares sobre a necessidade de executá-la. Ao final, decidiu-se cumprir a ordem de Brasília de não deixar nenhum guerrilheiro sair da região, mesmo que já não oferecesse perigo para o regime, como alguns militares avaliavam o caso de Áurea”.Em 18 e 19 de março de 2004, o jornalista Adriano Gaieski, da Agência Brasil, produziu matéria sobre novos depoimentos tomados de moradores da região pelo Ministério Público Federal, com as seguintes informações: “A terceira testemunha, cujo nome o Ministério Público Federal manteve em sigilo, foi identificada apenas como Ferreira. (...) ele confirmou os maus tratos sofridos pelos soldados, a violência e as execuções sumárias sofridas pelos guerrilheiros. O ex-militar contou ao procurador Adrian Pereira Ziemba ter visto a chegada, na base militar, de Áurea Eliza Pereira Valadão, 24 anos. (...) Conforme Ferreira, Áurea foi torturada durante todo um dia e uma noite. No dia seguinte, os militares a colocaram num helicóptero e ela nunca mais foi vista”.O relatório já mencionado, produzido em 28/01/2002 por quatro procuradores do Ministério Público Federal que visitaram a região, reforça a mesma informação: “Áurea: Áurea Elisa Pereira Valadão, presa, junto com Batista, na casa de uma moradora da região, onde iam comer diariamente. Teria sido levada para a base de Xambioá, onde foi vista”.AYLTON ADALBERTO MORTATI (1946-1971)JOSÉ ROBERTO ARANTES DE ALMEIDA (1943-1971)Mortati e Arantes foram presos no dia 04/11/1971, na Rua Cervantes, número 7, bairro de Vila Prudente, na capital paulista, por agentes do DOI-CODI/SP. Foram os dois primeiros militantes mortos, de um grupo de 28 exilados que participaram de treinamento de guerrilha em Cuba e retornaram clandestinamente ao Brasil como integrantes do MOLIPO, dissidência da ALN. A prisão de Aylton nunca foi assumida pelos órgãos de segurança e seu nome integra a lista de desaparecidos políticos anexa à Lei nº 9.140/95.Aylton nasceu em Catanduva, interior de São Paulo, em 13/01/1946. Fez o primário, o ginasial e o colegial em sua cidade natal. Depois foi cursar Direito em São Paulo, no Mackenzie, onde recebeu o apelido de “Tenente” por assistir às aulas com a farda de aluno do CPOR – Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. Engajou-se no Movimento Estudantil e teve atuação destacada até ser preso no 30º Congresso da UNE, em 1968. Era excelente pianista e faixa preta de caratê. Depois dessa primeira prisão, ingressou na ALN e viajou para Cuba em 1970. Seu codinome era Umberto, em homenagem ao próprio pai, mas todos o conheciam por “Tenente”. Nessa época, sua carta patente de oficial da reserva foi cassada pelo presidente Emílio Garrastazu Médici.Arantes nasceu em Pirajuí, no interior paulista, mas era ainda criança quando sua família se mudou, em 1956, para Araraquara (SP), onde seu pai assumiu o posto de professor de Botânica na Faculdade de Farmácia e Odontologia. Foi escoteiro, tocou piano, praticou natação e pólo aquático, colecionando medalhas esportivas. Estudou no IEBA – Instituto de Ensino Bento de Abreu, daquela cidade. Em 1958, foi porta-bandeira de um desfile patrocinado pelo Clube Pan-Americano de Araraquara carregando o pavilhão nacional de Cuba, o que pode ter sido uma premonição, na medida em que nem Cuba e nem José Arantes eram socialistas ainda.Em 1961, foi aprovado no disputado vestibular para Engenharia no ITA - Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Em 1964, em virtude de suas atividades políticas, foi expulso do ITA e levado preso para a Base Aérea do Guarujá. Libertado, retomou os estudos na Faculdade de Filosofia da USP, onde iniciou o curso de Física. Em 1966, foi eleito presidente do Grêmio da Filosofia. Em 1967, tornou-se vice-presidente da UNE. Em 1968, preso na repressão ao 30º Congresso da entidade, em Ibiúna (SP), Zé Arantes, como era conhecido, conseguiu fugir de dentro do DOPS, pela porta da frente, disfarçando-se no meio da balburdia produzida por quase 800 estudantes que lotavam as dependências daquela repartição no largo general Osório, em São Paulo.Era companheiro de Aurora Maria Nascimento Furtado, liderança estudantil na Psicologia da USP, conhecida pelo apelido Lola, que seria torturada até a morte em 1972, como integrante da ALN. Arantes iniciou sua militância partidária no PCB, tornando-se, já em 1967, uma das principais lideranças da DISP – Dissidência Comunista de São Paulo, cujos quadros, a partir de 1969, se integrariam em boa parcela à ALN. Antes da montagem de seu processo para exame na CEMDP, a única informação disponível era a de que fora fuzilado pelos agentes do DOI-CODI.A mãe de Aylton, Carmem Mortati, viveu os anos de 1970 e 1971 sob constante pesadelo:“Minha vida e de minha família passou a ser de constante vigilância e provocação por parte de agentes de segurança, que estacionavam carros à frente de minha residência, subiam no telhado da casa, usavam o banheiro existente no fundo do quintal, revistavam compras de super-mercado, censuravam o telefone, espancaram meus sobrinhos menores e, ao que pude deduzir, provocaram um início de incêndio em minha residência/pensionato. Os agentes que vigiavam minha residência e meus passos por duas vezes atentaram contra minha vida, jogando o carro em minha direção. Nestas oportunidades escudei-me atrás do poste. A partir de então recebi, com constância e permanência, bilhetes ameaçadores, onde estava escrito que meu filho ia morrer e vinha junto o desenho de uma cruz, em preto, nos bilhetes. Quando eu recebia esses bilhetes ameaçadores, os levava de imediato ao Comando da Aeronáutica e os entregava a um capitão, que me havia interrogado anteriormente e que, de tanto eu levar-lhe bilhetes, resolveu me fornecer uma carta onde se consignava que a Aeronáutica tinha feito uma vistoria em minha residência e que eu não tinha nada a ver com as atividades de meu filho”.Carmen Mortati contratou o advogado Virgílio Lopes Eney para procurar e defender Aylton. Certo dia, o advogado viu sobre uma mesa na 2ª Auditoria do Exército, em São Paulo, uma certidão de óbito em nome de Aylton Adalberto Mortati. Por tentar ler o documento, foi preso e levado para o DOI-CODI do II Exército, onde os militares o interrogaram e tentaram convencê-lo de que seu cliente nunca havia sido preso. Em 1975, os presos políticos de São Paulo enviaram documento ao presidente do Conselho Federal da OAB, Caio Mário da Silva Pereira, denunciando a prisão, tortura e morte de Aylton, dentre outros casos. Nenhuma informação oficial sobre sua prisão foi divulgada.No Arquivo do DOPS do Estado do Paraná foi encontrada uma gaveta com a identificação “falecidos”, onde constava o nome de Aylton. O Relatório do Ministério da Aeronáutica, de 1993, confirma sua morte nos seguintes termos telegráficos: “neste órgão consta que foi morto em 04/11/1971, quando foi estourado um aparelho na rua Cervantes, nº 7, em São Paulo. Na ocasião usava um passaporte, em nome de Eduardo Janot Pacheco”.A morte de Arantes foi divulgada apenas no dia 09/11/1971. A família só foi informada quando ele já estava enterrado como indigente no Cemitério Dom Bosco, em Perus, com o nome falso de José Carlos Pires de Andrade. Graças à intervenção de um delegado do DOPS, Emiliano Cardoso de Mello, parente da família de Arantes e pai da ex-ministra da Fazenda Zélia Cardoso de Mello, o DOPS autorizou o traslado do corpo para o Cemitério Municipal de Araraquara, em 12/11/1971.A falsidade da versão oficial só foi comprovada com o exame dos documentos encontrados, a partir de pesquisa feita por Iara Xavier Pereira, assessora da CEMDP, no IML de São Paulo, bem como da análise da foto do cadáver, localizada nos arquivos secretos do DOPS/SP. Na requisição da necropsia, datada de 04/11/1971, às 18h, encontra-se: “por volta das 17 horas, manteve tiroteio com membros dos órgãos de segurança, sendo nessa oportunidade ferido, e em conseqüência veio a falecer”. O corpo, entretanto, só chegou ao IML no dia 05/11/1971 às 18 horas, ou seja, 24 horas depois do suposto tiroteio onde fora morto. E mais, o laudo registra que a autopsia foi realizada às 15 horas do dia 05/11/1971. Portanto, antes de chegar ao IML.Mas foi o laudo de necropsia, assinado por Luiz Alves Ferreira e Vasco Elias Rossi, que trouxe a informação definitiva para elucidar o que realmente se passara: “segundo consta, trata-se de elemento terrorista, que faleceu em tiroteio travado ao resistir à prisão, com militares da OBAN, vindo a falecer às 17h30, aproximadamente, no dia 04/11/1971, sendo encontrado no pátio do trigésimo sexto distrito policial”. Como a 36ª DP, na Rua Tutóia, era sabidamente a sede do DOI-CODI de São Paulo, não restou dúvidas para os integrantes da CEMDP: se Arantes só fora recolhido no pátio da delegacia, 24 horas depois do suposto tiroteio, provavelmente chegou vivo àquela unidade.Outras provas reforçaram a falsidade da versão oficial. A foto de Arantes morto, encontrada nos arquivos do DOPS/SP, contradiz frontalmente o laudo do IML. Enquanto o laudo afirma que o corpo tinha dois ferimentos pérfuro-contusos, de formato ovular, medindo três centímetros na maior dimensão, localizados na parte média da região frontal, a foto não mostra esses dois ferimentos a bala, e sim grandes equimoses na região esquerda, sinais evidentes de tortura. Focaliza também a camisa encharcada de sangue do lado esquerdo do tórax, enquanto o laudo não se refere a qualquer ferimento na região.O relator do processo na Comissão Especial ponderou que “Arantes já fora preso na Base Aérea de Santos e em Ibiúna, em 1968. Os órgãos repressivos sabiam de suas ligações com a ALN e o Molipo e, no entanto, foi enterrado com nome falso, como indigente. A ocultação do cadáver visava, sem sombra de dúvidas, encobrir as torturas visíveis na foto e a execução com ferimentos não descritos no laudo”. Informações reunidas pelos familiares de Aylton dão conta de que ele permaneceu por cerca de 15 dias no DOI-CODI/SP, desaparecendo desde então. Em 1978, os estudantes da Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara decidiram homenagear a memória de Arantes conferindo seu nome ao Diretório Acadêmico daquela unidade da Unesp.ANTÔNIO JOAQUIM DE SOUZA MACHADO (1939-1971)CARLOS ALBERTO SOARES DE FREITAS (1939-1971)Militantes da VAR-Palmares, seus nomes integram a lista de desaparecidos políticos anexa à Lei nº 9.140/95. Antonio Joaquim e Carlos Alberto foram presos em 15/02/1971 por agentes do DOI-CODI/RJ, na pensão em que se hospedavam à rua Farme de Amoedo, 135, em Ipanema, no Rio de Janeiro. Na mesma data e local foi preso, mais tarde, Sérgio Emanuel Dias Campos, que sobreviveu.Antonio Joaquim, mineiro de Papagaios, proximidades de Pompéu, nasceu na Fazenda São José da Vereda, sendo filho de um fazendeiro que foi vereador pela UDN. Quincas, como era conhecido, tinha 13 irmãos vivos e estudou em regime de internato no Ginásio São Francisco, em Pará de Minas, e depois no Colégio Dom Silvério, em Sete Lagoas. Em 1960, ingressou na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, onde se graduou em 1965. Atuou na Juventude Estudantil Católica (JEC) e na Juventude Universitária Católica (JUC), participando da constituição da Ação Popular. Conseguiu escapar da prisão quando a Faculdade de Direito foi invadida logo após a derrubada de João Goulart, escondendo-se em um armário. Viajou para o Rio de Janeiro, retornando em 1965 para terminar seus estudos. Em 1966, já desvinculado da AP, atuou na campanha eleitoral de Edgar da Mata Machado, do MDB, e combateu a tese de voto nulo, que sensibilizava muitas áreas da esquerda. Advogou em Belo Horizonte e Teófilo Otoni até se mudar para o Rio de Janeiro, em 1969, integrando-se à VAR-Palmares.Sua família tentou exaustivamente alguma pista sobre seu paradeiro. Até o final de 1972, o pai fez 22 viagens ao Rio de Janeiro. Nos anos seguintes, conseguiu três audiências com o ministro da Justiça Armando Falcão, buscou ajuda de Tancredo Neves e comunicou-se com vários oficiais das três Armas. Através do general reformado Ercindo Lopes Bragança, seu conhecido, chegou a receber, em setembro de 1972, a informação de que o filho fora preso pela Marinha e entregue ao Exército, mas tais informações nunca foram oficialmente confirmadas.Em depoimento à 2ª Auditoria do Exército, no Rio de Janeiro, em 14/11/1972, a presa política Maria Clara Abrantes Pêgo, amiga de infância e condenada sob a acusação de integrar, com Antonio Joaquim, a célula de documentação regional da VAR-Palmares na Guanabara, fez impressionante relato das torturas a que foi submetida e denunciou o desaparecimento e possível morte de Antonio Joaquim na Polícia do Exército, sede do DOI-CODI/RJ. O historiador e ex-preso político Jacob Gorender, em seu livro Combate nas Trevas, menciona que Antonio Joaquim seria a única pessoa em contato com o banido Aderval Alves Coqueiro, morto, também no Rio, nove dias antes.Carlos Alberto Soares de Freitas – Beto para a família e “Breno” na militância clandestina -, caçula de oito irmãos, cursou o primário no Colégio São Francisco e no Grupo Escolar Manoel Esteves, em Teófilo Otoni, e o secundário nos colégios Anchieta e Tristão de Ataíde, em Belo Horizonte. Ingressou na Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais, em 1961, para cursar Sociologia e Política. Nesse mesmo ano filiou-se ao PSB e também à organização Polop. No período de 1961 a 1965, militou no Movimento Estudantil e contribuiu na implantação das Ligas Camponesas em Minas Gerais. Viajou a Cuba em 1962 para assistir às comemorações do terceiro aniversário da revolução liderada por Fidel Castro. Com o Golpe de Estado de abril de 1964, a Polop determinou que ele se deslocasse para o Rio de Janeiro, o que cumpriu por poucos meses. Em 26 de julho daquele ano foi preso em flagrante, novamente em Belo Horizonte, pichando muros com slogans de solidariedade à Revolução Cubana. Levado ao DOPS recusou-se a desempenhar trabalhos burocráticos naquela dependência policial e foi transferido para a Penitenciária Agrícola de Neves. Em novembro do mesmo ano, foi libertado por força de habeas-corpus.Participou, em 1965, da reorganização da seção regional do Partido Socialista Brasileiro, tornando-se um dos membros do Comitê Executivo do partido, além de dirigente nacional da POLOP. No período de 1965 a 1968, além de outras tarefas, escreveu semanalmente artigos para o jornal operário Piquete. Em 1967, foi condenado à revelia pela Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar, em Juiz de Fora, o que o obrigou a atuar na clandestinidade.Em 1968, passou a integrar a direção nacional do COLINA e elaborou documentos de análise política para discussões internas na organização, usando o pseudônimo de Fernando Ferreira. Nesse período, foi um dos diretores da revista América Latina. Logo após o AI-5, mudou-se para o Rio de Janeiro. Nesse mesmo ano, passou a integrar o Comando Nacional da VAR-Palmares, fusão entre COLINA e VPR, no qual permaneceu até desaparecer.Foi através de uma carta de Carlos Alberto que a família soube de sua prisão. “Esta carta só lhes será enviada se eu estiver preso. A forma de como lhes chegou, não importa”. Carlos Alberto orientava os pais a respeito de como proceder para “conseguir minorar as torturas, já que era impossível detê-las de todo, a não ser num segundo momento. Tem-se que incomodá-los. Encher-lhes a paciência com visitas, com insistência para ver-me. Recusam continuadamente. No princípio eles negam a prisão. Dizem mesmo que a pessoa não foi presa. Insistam, voltem à carga. Tentem de novo, mais uma vez, outra, gritem, chorem, levem cartas, enfim, não lhes dêem sossego. Sempre se consegue romper a barreira”.Quando de sua prisão e desaparecimento, seus familiares fizeram tudo isso que Carlos Alberto propôs na carta premonitória, e muito mais. Foram mobilizados importantes advogados como Sobral Pinto, Oswaldo Mendonça e Modesto da Silveira. Apelos dos familiares foram encaminhados às mais importantes autoridades do regime, como o presidente Garrastazu Médici e o chefe do Gabinete Militar João Baptista Figueiredo, além do ministro do STM general Rodrigo Octavio Jordão Ramos. Nenhuma informação foi apresentada pelo Estado brasileiro aos familiares até os dias de hoje.Ao relatar o que viveu na prisão, a militante da VPR Inês Etienne Romeu, amiga e companheira de Carlos Alberto desde a faculdade, sobrevivente do cárcere clandestino em Petrópolis (RJ) que ficou conhecido como “Casa da Morte”, declara que um dos carcereiros que a mantinha seqüestrada no local, conhecido por ela como “Dr. Pepe”, confirmou-lhe que seu grupo executara Carlos Alberto, por cuja prisão, em fevereiro, havia sido responsável. Disse-lhe, ainda, que seu grupo não se interessava em ter líderes presos e que todos os cabeças seriam executados, depois de interrogados.Vários outros depoimentos de presos políticos nas auditorias militares denunciaram a prisão e desaparecimento de Carlos Alberto e Antonio Joaquim. Amílcar Lobo, que na época era tenente-médico do Exército, admitiu ter atendido presos políticos na “Casa da Morte” e também no DOI-CODI/RJ, tendo reconhecido Carlos Alberto dentre as fotos de pessoas que atendera no Quartel da Polícia do Exército entre 1970 e 1974.Em resposta ao habeas-corpus impetrado em maio de 1971 em nome dos três presos na mesma pensão de Ipanema, os comandos regionais das três armas responderam negativamente, sendo que, no caso da Aeronáutica, o brigadeiro João Bosco Penido Burnier, também denunciado como mandante de torturas e responsável pela eliminação de presos políticos, enviou resposta negativa a respeito de Carlos Alberto e Antonio Joaquim, mas positiva quanto a Sérgio Campos.Documento da Anistia Internacional registra a respeito de Carlos Alberto Soares de Freitas: “torturado no CODI do Rio de Janeiro até abril de 1971 e depois desaparecido”.CELSO GILBERTO DE OLIVEIRA (1945-1970)
Desaparecido constante da lista anexa à Lei nº 9.140/95. Praticamente inexistem informações biográficas sobre sua trajetória política anterior à militância na VPR. Gaúcho de Porto Alegre, corretor de imóveis, Celso Gilberto de Oliveira foi preso no Rio de Janeiro, em 9 ou 10/12/1970, num momento em que as forças de repressão política estavam especialmente ativas. No dia 7, tinha sido seqüestrado o embaixador da Suíça no Brasil, Giovanni Enrico Bucher, e os órgãos de segurança buscavam com voracidade alguma pista que levasse ao cativeiro do diplomata.De acordo com o Dossiê dos Mortos e Desaparecidos, Celso foi preso por agentes do CISA, o setor de inteligência da Aeronáutica, comandados pelo capitão Barroso, sendo transferido ao DOI-CODI/RJ. Segundo denúncias feitas mais tarde por outros presos políticos, Celso Gilberto foi torturado nessa unidade pelos tenentes Hulk, Teles e James, todos do Exército. O ex-preso político Sinfrônio Mesa Neto afirma em seu depoimento que foi acareado com Celso nos dias 24 e 25 de dezembro, para que ele fosse incriminado como militante da VPR e seqüestrador do embaixador suíço.Segundo o Relatório do Ministério do Exército, apresentado ao ministro da Justiça Maurício Correa em 1993, Gilberto foi preso pelo CISA em 09/12/1970 e entregue ao DOI-CODI do I Exército no dia 11/12/1970. Foi interrogado em 29/12/1970, quando admitiu o seu envolvimento no seqüestro do embaixador da Suíça no Brasil. Na madrugada de 29/30 de dezembro de 1970, conduziu ardilosamente as equipes dos órgãos de segurança ao local que seria o cativeiro, mas, comprovada a farsa, empreendeu fuga conseguindo evadir-se, fato confirmado pelo relatório da Operação Petrópolis de responsabilidade do DOI-CODI/I Exército.Já o Relatório do Ministério da Marinha registra: “teria sido preso em 10/12/70, por Oficial da Aeronáutica e levado para o Quartel da PE, na Guanabara, no dia 18/12/70; a partir daquela data não se soube mais do seu paradeiro. Pertencia à VPR e participou do seqüestro do embaixador suíço”.O Relatório do Ministério da Aeronáutica tem uma terceira versão: “Militante da VPR. Participou do seqüestro do embaixador suíço Giovanni Enrico Bucher, em 07/12/70, do qual resultou o assassinato do agente da Polícia Federal, Hélio Carvalho de Araújo. Enquanto o referido diplomata permanecia em cativeiro, foi detido por uma equipe do então CISA e encaminhado ao DOI/I Ex, em 11 dez 70”.Apesar das informações nos documentos oficiais, a morte de Celso nunca foi assumida pelos órgãos de segurança.CILON DA CUNHA BRUM (1946-1974)
Gaúcho de São Sepé, iniciou seus estudos no Rio Grande do Sul e se transferiu posteriormente para São Paulo, onde ingressou no curso de Economia da PUC e atuou no Movimento Estudantil, sendo eleito presidente do Diretório Acadêmico da Economia e dirigente do Diretório Central dos Estudantes. Ao mesmo tempo, trabalhou na MPM publicidade. Seu último contato com a família foi em junho de 1970, quando esteve em Porto Alegre e revelou para seus irmãos que estava com problemas políticos e que poderia ser preso a qualquer momento.Militante do PCdoB, foi deslocado em 1971 para uma localidade junto ao rio Gameleira, no Araguaia, sendo conhecido como Simão ou Comprido. Conforme o relatório Arroyo, “em out./72 passou a vice-comandante do dest. B”. Estava junto com Osvaldão na localidade de Couro Dantas quando foi morto o cabo Rosa, primeiro militar a ser abatido pelos guerrilheiros, em maio de 1972.O relatório do Ministério da Marinha informa que, “em set./73 - era chefe do Grupo Castanhal do Dest. B. Morto em 27/02/74”. Pedro Ribeiro Alves, conhecido como ‘Pedro Galego’ testemunhou, em depoimento ao Ministério Público Federal, em São Geraldo do Araguaia, em 19/07/01, ter visto vivos, no acampamento do Exército em Xambioá, os guerrilheiros Batista, Áurea, Simão (Cilon da Cunha Brum) e Josias.Em documento elaborado pela ABIN em 21/02/2005, em resposta a um requerimento da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, consta que Cilon, “foi militante do PCdoB, fez curso de guerrilha na região de Marabá/PA. Em set. 72, seu nome integrou uma relação de procurados pelo Departamento de Operações e Informações do Centro de Operações de Defesa Interna do II Exército (DOI-CODI/II Ex)”.O livro Operação Araguaia, de Taís Morais e Eumano Silva, apresenta uma foto de Cilon já preso, agachado junto a um grupo de militares, e relata: “Em uma das passagens por Xambioá, o soldado Adolfo da Cruz Rosa conheceu o guerrilheiro Simão, preso pelos militares. O esquerdista andava solto pela base das Forças Armadas montada nos arredores da cidade. Sem algemas, mas vigiado, bombeava água para o acampamento por ordem dos comandantes. Alto, branco, Simão estava com Osvaldão na refrega em que morreu o cabo Rosa. Havia dúvida sobre quem deu o tiro fatal. Colegas estimulavam Adolfo a matar o comunista e vingar a morte do irmão. O soldado dizia que considerava a idéia um absurdo. Adolfo e Simão conversaram várias vezes. Uma vez o irmão do cabo Rosa quis tirar a dúvida.‘Você matou meu irmão?’‘Não, não fui eu.’Mais, Simão não disse. Perguntado sobre a responsabilidade de Osvaldão, nada respondeu. O tempo passou. Um dia, ao voltar de uma missão, Adolfo percebe a ausência do preso. Alguém diz que foi levado para Brasília. Mentira. Simão, indefeso, foi morto na mata”.Em 2003, na 49ª Feira do Livro de Porto Alegre, a deputada do PCdoB Jussara Cony participou do lançamento da obra Para não esquecer o Araguaia — em memória do gaúcho Cilon. O livro foi escrito pelo professor da Universidade Federal de Santa Maria, Diorge Konrad, trazendo depoimentos da vereadora Tânia Leão, de São Sepé, autora da lei que deu o nome Cilon Cunha Brum a uma praça naquela cidade.CIRO FLÁVIO SALAZAR DE OLIVEIRA (1943–1972)
Natural de Araguari, no Triângulo Mineiro, sua família mudou-se para o Rio de Janeiro, onde Ciro estudou em duas escolas tradicionais do bairro Laranjeiras, o primário no Colégio Santo Antônio Maria Zacarias e o secundário no Colégio Franco Brasileiro. Ingressou em 1964 na Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil (hoje UFRJ), na Ilha do Fundão. Participante ativo do Movimento Estudantil, foi detido pelo DOPS distribuindo folhetos no dia da passeata dos 100 mil, 26 de junho de 1968. Libertado, passou a atuar na clandestinidade.A revista Manchete publicou foto em que Ciro Flávio aparecia incendiando uma viatura policial durante manifestação estudantil, o que lhe valeu intensa perseguição policial. Em 1970, já engajado no PCdoB, foi para a região do Araguaia, estabelecendo-se na área do rio Gameleira. Integrado ao Destacamento B dos guerrilheiros, morou em Palestina, município de São João do Araguaia, onde, junto com Paulo Roberto Pereira Marques, instalou uma pequena farmácia, valendo-se de sua própria experiência familiar, filho que era de um proprietário de farmácia na Zona Norte do Rio de Janeiro. Conforme já transcrito anteriormente do Relatório Arroyo, morreu metralhado em 29 ou 30/09/1972. Em abril de 1973, foi mostrado a Criméia Alice Schmidt de Almeida, ex-guerrilheira do Araguaia, presa no PIC de Brasília, um slide onde aparecia o cadáver de Ciro.O Relatório apresentado pelo Ministério do Exército ao ministro da Justiça Maurício Corrêa, em 1993, registra que Ciro “teria sido morto em outubro de 1972”. Em certidão fornecida pela ABIN, em resposta a um pedido de esclarecimento feito pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, consta que em março de 1975 seu nome integrou uma relação nominal elaborada pelo SNI de mortos e desaparecidos na Guerrilha do Araguaia. Nesta lista aparece como “morto em 1971”.O “livro negro do terrorismo”, produzido pelo CIE entre 1986 e 1988, por determinação do então ministro do Exército Leônidas Pires Gonçalves, registra na página 725 a morte como ocorrendo no dia 29: “Ainda nesse dia (29 de setembro de 1972), um grupo de terroristas aproximou-se de um casario. Um deles foi visto, no momento em que retrocedia, por um dos componentes de uma patrulha do 6º BC. A patrulha empreendeu perseguição aos subversivos e no tiroteio travado acabou por matar três terroristas do grupo: Ciro Flávio Salazar de Oliveira (Flávio) e Manoel José Nurchis (Gil), do destacamento B, e João Carlos Haas Sobrinho (Juca), da Comissão Militar”.Flávio) e Manoel José Nurchis (Gil), do destacamento B, e João Carlos Haas Sobrinho (Juca), da Comissão Militar”.Flávio) e Manoel José Nurchis (Gil), do destacamento B, e João Carlos Haas Sobrinho (Juca), da Comissão MilitarCAIUPY ALVES DE CASTRO (1928-1973)
Caiupy era bancário aposentado, casado com Marly Paes Leme, sócio da empreiteira São Tomé. Vivia no Rio de Janeiro em situação perfeitamente legal e desapareceu no dia 21/11/1973, às 19 horas, após descer de um ônibus em Copacabana. Já havia sido preso uma vez, em maio de 1968, na véspera das comemorações do 1º de maio, quando participava de uma manifestação perto do campo do São Cristóvão.Ficou por 11 dias incomunicável nas dependências do DOPS/RJ. O Sindicato dos Bancários interferiu, mas as autoridades não reconheceram a prisão. Vinte dias depois, por meio de um habeas-corpus, Caiupy foi solto. Não houve processo, nada foi apurado. Era acusado de ser membro do PCB por ter tirado seu título de eleitor através desse partido, por volta de 1945. Nesse período pós-Estado Novo, o PCB era um partido perfeitamente legal, que montava bancas nas ruas para obter novos filiados. O nome de Caiupy consta na lista de desaparecidos políticos anexa à Lei nº 9.140/95.Nas várias listas formadas desde os anos 1970 sobre mortos e desaparecidos políticos, seu nome costumava ser gravado como Caiuby, e não Caiupy, e sua vinculação política era dada como sendo o PCB, graças a essa prisão anterior. No entanto, sabe-se que Caiupy era pessoalmente ligado ao major do Exército Joaquim Pires Cerveira, banido do Brasil em junho de 1970, a quem Caiupy visitou no Chile em 1971. Levando em conta que os dossiês e sites ligados aos familiares de mortos e desaparecidos políticos nunca trouxeram maiores informações sobre o vínculo de Caiupy com o PCB, considerando que nesse período Cerveira nada tinha a ver com esse partido, e atentando, finalmente, para a proximidade das datas entre os desaparecimentos de Caiupy e Cerveira, parece mais seguro registrar como não definida a filiação política de Caiupy.Marly, em depoimento no livro Desaparecidos Políticos, organizado por Reinaldo Cabral e Ronaldo Lapa, em 1979, conta o que aconteceu no dia do desaparecimento de Caiupy:“Tomamos um ônibus da linha circular Glória-Leblon, no inicio da rua Barata Ribeiro, em Copacabana, e quando chegamos na altura da Galeria Menescal, Caiupy puxou a cigarra e desceu. Antes, me confidenciara um encontro rápido com um amigo, mas garantiu que voltaria logo. Pediu-me, inclusive, que não mudasse a roupa ao chegar em casa, pois iríamos juntos ao cinema.Esperei e nada de Caiupy. O dia já estava quase amanhecendo e o meu marido não tinha voltado. Pensei comigo: vai ver que o encontro se prolongou demais e ele não pode avisar. Dia seguinte, não dava mais para esperar e comecei a tomar as providências, meu marido tinha desaparecido.Comecei a busca. Recorri a amigos que me acompanharam nos distritos policiais. Desconfiava da gravidade do que tinha acontecido. Ninguém desaparece assim de uma hora para outra. Fui pelas vias normais. Percorri todos os hospitais da cidade, minha irmã foi ao necrotério, fomos também ao DOPS e nada encontramos. (...)Procurei um advogado. Fui falar com D. Ivo Lorscheiter na CNBB, comecei a movimentar pessoas amigas, fiz pedidos a generais e nada consegui. Nenhum órgão assumia a prisão de Caiupy. Devido à minha falta de tempo, Lourdes Cerveira, esposa do também desaparecido major Cerveira, me ajudava.Nessa época foi preso um companheiro do Caiupy de nome Otevaldo Silva. A prisão foi de conhecimento público. Pouco depois, Otevaldo foi solto e disse que ouviu a voz de meu marido quando estava sendo interrogado num quartel militar de Brasília.”.
Fonte: http://www.comunistas.spruz.com




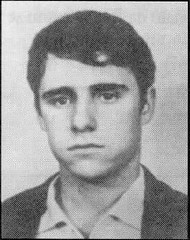

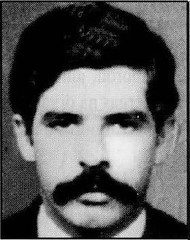


+1aaaaaa.jpg)

Post a Comment